

Contribua usando o Google
Veja montara uma super-redação, grande demais para o faturamento inicial da revista. Depois foi reduzindo o quadro.
Meu início do jornalismo veio, curiosamente, através da música. Em 1969 venci inúmeros festivais no interior, inclusive uma semifinal da Feira Permanente de Música Popular Brasileira, na TV Tupi.
Em Casa Branca, uma das juradas era Laís, repórter da revista Realidade. A música era “Frevo Gamado”, interpretado por nossa cantora Mônica e Paulo Molin, cantor que havia feito muito sucesso na rádio Nacional nos anos 50.
Voltando a São Paulo, ela comentou sobre as músicas com seu chefe, Luiz Fernando Mercadante. Para sua surpresa, ele contou:
- É meu sobrinho!
De fato, em fins dos anos 60 ele se casou com minha tia Zélia. Através do meu avô, Issa Sarraf, conheceu Carlos Lacerda, começou a trabalhar na Tribuna da Imprensa, morando na casa do pai do jornalista Luiz Garcia. Depois, voltou a Poços, casou-se com a tia Zélia em um casamento que foi um verdadeiro comício: Lacerda, padrinho do noivo; Bilac Pinto, da noiva.
Tempos depois ficou doente, voltou para Poços, separou-se e foi para São Paulo, onde fez carreira vitoriosa na editora Abril, sendo um dos mentores da criação da histórica Realidade. Nunca mais o tinha visto.
Apesar de separado de tia Zélia, uma vez por semana ele ia à sua casa, levando um amigo para almoçar com ele, para rever os filhos e a tia – que, mesmo após inúmeros casamentos de Mercadante, permaneceu seu arrimo psicológico.
Formei-me no antigo ensino Clássico em 1969, terminei o Tiro de Guerra e matriculei-me no Vestibular da recém fundada Escola de Comunicações e Artes da USP. Passei, mas só consegui, em um primeiro momento, matrícula no período da tarde.
Através de tia Zélia, Mercadante mandou o aviso para que o procurasse, assim que chegasse a São Paulo.
Participei de um dos almoços com Luiz Garcia, mas o horário de aula impediu o trabalho. No segundo semestre, mudei para a parte da manhã. Mercadante conversou com Laerte Fernandes, Secretário de Redação do Jornal da Tarde. E levou Talvani Guedes da Fonseca – que tinha assumido a chefia da Reportagem Geral da Veja – para um almoço na casa da tia.
Foi Talvani que me proporcionou o primeiro estágio, que se iniciou no dia 1o de setembro de 1970.
Na inauguração, três anos antes, Veja montara uma super-redação, grande demais para o faturamento inicial da revista. Depois foi reduzindo o quadro. Em 1970 reabriu os estágios. Os três primeiros aprovados foram Dailor Varela, Ângela Ziroldo e eu.

A reportagem geral oferecia repórteres para todas as editorias. Sabendo de meu pendor para a música, Talvani me alocou para atender os pedidos de Artes e Espetáculos. O editor era Carmo Chagas, o crítico da música Tárik de Souza, o editor da muito lida seção Gente era José Ramos Tinhorão, o crítico de cinema Geraldo Mayrink e o de literatura Léo Gilson Ribeiro.
A convivência com Tárik e Tinhorão me permitiu entrar no mundo mágico dos meus ídolos musicais, especialmente depois que a Abril publicou os famosos Fascículos da Música Popular Brasileira.
Foi um início curioso. Depois de três meses de estágio, Talvani me chamou para uma conversa e me orientou:
- Olha aqui. Agora estou te falando como seu amigo. Amanhã falarei como seu chefe. Vou te oferecer um salário de 500 reais para efetivá-lo (eu ganhava 250 como estagiário). Não aceite. Exija no mínimo 1.500.
No dia seguinte, como combinado, me chamou na sua sala, fez sua oferta e, conforme o combinado, não aceitei. Sua resposta foi desconcertante:
- Então lamento muito. Vou te indicar para a Folha de S. Paulo ou outro jornal.
Recém chegado a São Paulo, supus que fosse assim mesmo, todos os jornalistas eram pirados. Saí da sala e fui me despedir do editor Carmo Chagas.
- Porque está se despedindo?
No mês anterior, Tárik tinha tirado férias e eu o substituí, diria com relativo sucesso, com críticas e comentários de shows. Carmo pediu paciência:
- Tire uma semana, vá a Santos namorar um pouco (minha primeira esposa tinha se mudado com a família para Santos). Semana que vem o Tárik volta e iremos falar com Sérgio Pompeu (o secretário de redação).
Na 2a feira voltei, Carmo me disse que minha proposta tinha sido aceita e que eu podia voltar ao trabalho. Encontrei Talvani no corredor:
- Nassif, veio nos visitar?
- Não. O Sérgio Pompeu aceitou minha proposta.
Talvani ficou enlouquecido. Disse que tinha sido atropelado e prometeu que, dali para frente, minha vida não teria moleza:
- Vai acabar essa história de materinha de música, comportamento e vai pegar pedreira.
De fato, foi um belo aprendizado, que passou por entrevistas com empresários japoneses – o horror dos repórteres pelo seu habito de responder a tudo monossilabicamente.
De pedreira em pedreira, fui incumbido de uma reportagem para a editoria de Negócios com o Circo Orlando Orfei. Talvani recomendou-me que não pedisse fotógrafo, porque ele mesmo queria fotografar, aproveitando seu curso de fotografia.
Admito que sou distraído, muito mesmo. E não foi por mal que avisei a fotografia a respeito do evento, atrapalhando a estreia do fotógrafo amador Talvani.
A redação da Veja era dividida em baias, separada por paredes de madeira de 1,5 metro de altura. Ainda não acostumado com a zoeira da baia da reportagem geral, costumava ir à baia de Artes e Espetáculos que, de manhã, ficava vazia.
Estava escrevendo minha matéria quando ouço um berro, vindo da Geral.
- Nassif, venha aqui.
Fui e levei a maior bronca da minha vida por ter solicitado o fotógrafo.
- E quem é você para ficar na baia de Artes e Espetáculos, se não passa de um reles repórter.
Voltei para a baia, cabisbaixo. Olhava a máquina de escrever e todas as teclas se misturavam. Não ía conseguir conviver com aquela bronca, dada na frente de todos os colegas.
Voltei para a baia da Geral, fui em direção à mesa do Talvani, chutei uma cadeira que estava na frente e, de pé na frente dele, devolvi a bronca:
- Quem tem chefe é índio! Quando tiver que gritar, vá gritar com suas negas! Não admito ser tratado assim.
E voltei para a outra baia, ainda com a cabeça quente. Para minha surpresa, Talvani veio atrás, disse que eu tinha razão e pediu desculpas. Ainda com cabeça quente, fui ríspido:
- Não aceito!
- Como não aceita?
- Você me ofendeu na frente de todo mundo e agora vem pedir desculpas em particular?
Ele saiu da baia e eu lamentei minha cabeça quente. De repente, ouço ele me chamando novamente, e com voz educada. Fui até a Geral e, na frente de todos os repórteres, ele me pediu desculpas.
Dali por diante, foi o melhor chefe de reportagem que tive.
O segundo tempo do jogo
A partir dali, foi a convivência com quem era considerada a nata do jornalismo da época.
Admirávamos o texto de Tão Gomes Pinto e Renato Pompeu mas, especialmente, o de Geraldo Mayrink. Nos encantávamos com as reportagens de Pena Branca, tipo malandro carioca que conhecia tudo do submundo. Nos divertíamos com as brigas entre o internacionalista Léo Gilson Ribeiro e o nacionalista-raiz José Ramos Tinhorão.
Certa vez, Tinhorão irritou tanto Léo que ele subiu na mesa com um livro, ameaçando jogar em Tinhorão. E Tinhorão, com seu humor ferino:
- Para com isso, Léo. No máximo, você consegue jogar brochura.
Quando Veja pegou de vez, todos na redação passaram a se considerar gênios. Lembrava muito o antigo personagem Bozó, da Rede Globo – que se vangloriava, com todo mundo, por trabalhar na Globo.
O mais irônico de todos nós era Mayrink. Um dia, em uma roda, Mayrink falou uma frase banal qualquer. Um dos presentes olhou para ele com aquele olhar de “saquei o que você quis dizer” e ficou com um sorriso vitorioso no rosto.
Eu tinha chegado do interior. Fiquei muito amigo de outro interiorano, o gaúcho Geraldo Hasse e o paraense Sérgio Buarque. Chamei Hasse de lado:
- Você entendeu a ironia do Mayrink?
E Hasse:
- Não entendi nada.
E fomos nós tentar entender. Chegamos na mesa do Mayrink e perguntamos o que ele quis dizer com aquela frase. E ele:
- Não quis dizer nada. Não entendi a reação do colega.
Continuei fazendo minhas reportagens de música, comportamento, entremeadas de alguma pedreira. Um dia, o Mayrink me passa uma pauta para cobrir a exposição de esculturas de futuristas italianos, seguidores do Manifesto Futurista de de Filippo Tommaso Marinetti
Nunca tinha escrito sobre artes plásticas. Desci até o Dedoc (Departamento de Documentação), li vários livros de arte para entender o linguajar e os critérios de julgamento dos críticos. E perpetrei minha reportagem-crítica.
No dia seguinte, Mayrink me chama à sua mesa e me diz com ar zombeteiro:
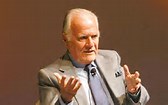
- O Mino quer falar com você.
A revista estava atrás de um novo crítico de arte. Entramos na sala de Mino – que a redação chamava de cenáculo, porque apenas os escolhidos podiam entrar. Lá, Mino me convidou para o cargo. Fui sincero:
- Mino, não tenho o menor conhecimento de artes plásticas. O que fiz foi ler vários livros para entender o estilo desse pessoal. Só isso.
Mayrink, do lado, contendo o riso. O olhar de Mino dizia tudo de seu estado de espírito. Logo depois, convidou Olívio Tavares de Araújo, que se tornou uma referência na crítica de artes do jornalismo da época.
A ida para a Economia
Depois de Talvani, passaram pela chefia de redação o Guilherme Velloso, Ulisses Alves de Souza e Paulo Totti.
Foi Totti que me trouxe a proposta para me tornar Repórter Especial. Poderia escolher entre a música e a Economia.
De fato, Tárik estava voltando para o Rio e o cargo ficaria vago. Tinha todas as condições de, aos 24 anos, assumir o mais ambicionado cargo de crítica de música da imprensa, só alcançado pelo Jornal da Tarde, com o imbatível José Lino Greewald.
Mas algo me incomodava profundamente. Vivíamos sob ditadura. Não havia liberdade para a editoria de Política. Havia algum espaço para crítica na Economia. Mas todo o espírito revanchista se concentrava na Música.
A crítica de música na época limitava-se a dividir os artistas em dois grupos: os alienados e os participantes. Os supostos alienados eram destinados ao cemitério do Henfil. Até Ligia Fagundes Telles foi enterrada lá. Aos participantes, todos os adjetivos e elogios, mesmo que fossem medíocres.
Eu tinha um bom conhecimento de crítica musical, para o qual muito ajudou meu período prévio de compositor. Mas as limitações da crítica de música da época me incomodavam. Escolhi, então, a Economia. E fui trabalhar em uma editoria que tinha como editores Emilio Matsumoto e Paulo Henrique Amorim, como editores assistentes o Mário Alberto de Almeida de Alexandre Machado e, logo depois, José Paulo Kupfer.
Mas essa é outra história.
LUIS NASSIF ” JORNAL GGN ( BRASIL)