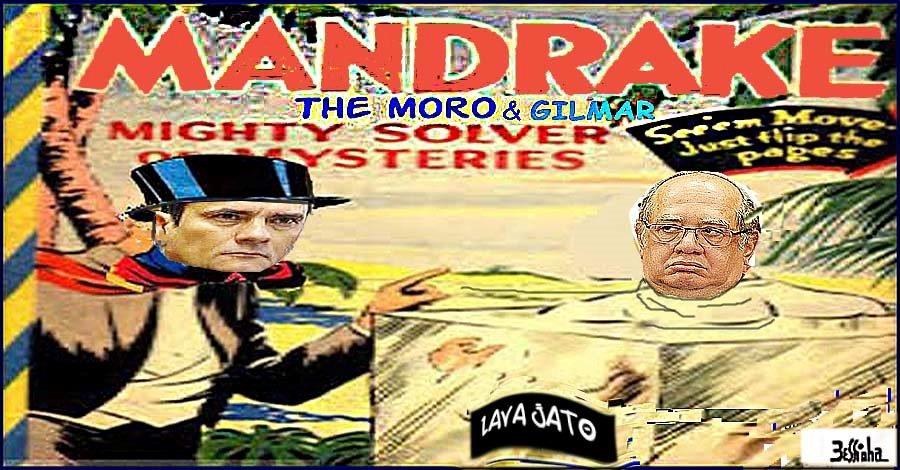
O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, se deixou reger pela ampulheta da política no ritmo de suas decisões. Ao adiar para agosto a decisão sobre o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Segunda Turma deu tempo para que mais arquivos do “The Intercept” apareçam, evitou que os egrégios ministros virassem pixulecos das manifestações em apoio à Lava-Jato no domingo, privou o presidente Jair Bolsonaro de voltar a reinar no bloco do antilulismo e até Lula de se desapegar do papel de vítima tão bem retratado em “Democracia em Vertigem”, de Petra Costa. Só não convenceu de que sob aquelas vestes se ancoram as garantias de um Judiciário acima de quaisquer suspeitas.
O tempo do direito, vários ministros já o disseram, não é o da política, mas é esta que tem ditado o ritmo da Corte no alvoroço da opinião pública com o tão desejado combate à corrupção. Além do processo do tríplex do Guarujá que o levou à prisão, Lula ainda é réu em oito outras ações. Nem todas em mãos da 13ª Vara da Justiça Federal do Paraná. Não se livrará tão cedo das lides judiciais. Mas a história do Supremo não começou com Lula nem pode terminar enredada na trama que envolve o mais emblemático personagem já produzido pela política brasileira neste século.
Ao negar o habeas corpus a um réu preso há 446 dias sobre cuja condenação pairam fundadas acusações de parcialidade e jogar para agosto a decisão sobre a suspeição do julgamento, o Supremo repete o comportamento que o pautou em outras ações decisivas para que a conjuntura política tomasse a atual configuração.
Em dezembro, o ministro Gilmar Mendes havia pedido vista do processo de suspeição de Sergio Moro depois que o juiz virou ministro do governo Jair Bolsonaro. Em seguida, o colocou na pauta da Segunda Turma e depois retirou o mérito da decisão, restringindo-a ao HC. O errático ministro foi o mesmo que suspendera, em decisão liminar, a posse de Lula em 2016 com base na divulgação de um grampo que envolveu uma conversa com presidente da República autorizado por um juiz de primeira instância. Se a atitude de Dilma era questionável, a nomeação, pela importância de que se revestia, impunha uma apreciação imediata do colegiado. A decisão de Gilmar, às vésperas do feriado de Páscoa, no entanto, o impediu. Dilma cairia um mês depois.
A posse do ex-presidente como ministro poderia não ter mudado o destino da sucessora ou o seu, mas ao impedi-la, monocraticamente, Gilmar contribuiu para a erosão do estado de direito que hoje trinca a República. Baseou sua decisão num áudio que depois seria anulado pelo então relator da Lava-Jato no Supremo, Teori Zavascki. Moro chegou a pedir respeitosas escusas à egrégia Corte que as mensagens do “The Intercept” agora provaram não ter sido mais do que protocolares.
O tribunal não voltaria a se debruçar sobre a posse de Lula de forma colegiada porque já não havia governo a ser integrado. Menos de um ano depois, no entanto, o Supremo julgaria a promoção do então secretário-executivo do Programa de Parcerias em Investimentos (PPI), Moreira Franco, para a Secretaria-Geral da Presidência. O cargo, com prerrogativa de foro, foi criado pelo então presidente Michel Temer para abrigar o assessor logo depois de sua inclusão nas citações da Lava-Jato. A nomeação acabaria avalizada pela mesma Corte que adiou indefinidamente a decisão sobre o foro de Lula.
Na lista de decisões em que se misturam o tempo do direito e da política ainda tem lugar cativo a suspensão do mandato do ex-presidente da Câmara, hoje preso, Eduardo Cunha. Seu afastamento havia sido pedido pela Procuradoria-Geral da República em 16 de dezembro de 2015. O ex-deputado apenas foi afastado pelo Supremo em 5 de maio, 18 dias depois da histórica sessão da Câmara dos Deputados, por ele presidida, que determinou o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff sob os auspícios da homenagem do futuro presidente a um torturador.
Os dois tempos do Supremo escancararam o controle arbitrário da pauta da Corte e sacramentaram a escola Sergio Moro do fato consumado. Enquanto a liminar contra a posse de Lula foi decidida em menos de 24 horas e às vésperas de um feriado prolongado, o afastamento de Cunha levou cinco meses e um impeachment para ser pautado. “O Supremo é hoje, suspeito quando corre, e suspeito quando freia”, escreveu, à época, Diego Arguelhes, hoje professor do Insper.
Desde a divulgação das mensagens entre Moro e Dallagnol, os ministros do Supremo têm evitado se manifestar mais abertamente. As exceções ficam por conta de Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso. O primeiro, que já foi pródigo em elogios a Sergio Moro, o acusa agora de ser o “chefe” da Lava-Jato. E Barroso disse não entender a “euforia dos corruptos” com a divulgação dos diálogos. Ao agirem como lideranças das duas turmas do Supremo que hoje se digladiam em torno da narrativa do combate à corrupção, perdem a oportunidade de encabeçar a autocrítica em relação ao papel da Corte numa conjuntura em que permanece vazia a cadeira de mediação.
Se Sergio Moro ainda é capaz de manter bons índices de aprovação nas pesquisas de opinião e de mobilizar uma manifestação popular a seu favor é porque uma fração importante dos brasileiros acredita que as instituições podem se desviar de seu papel constitucional desde que seja para cumprir uma missão justiceira. Foi esse o personagem que o juiz explorou com competência do político no qual se transformou, já faz tempo, durante o depoimento no Senado.
Moro caiu na boca do povo porque a maioria dos brasileiros, enfurecida com a corrupção, passou a torcer para que os juízes colocassem na cadeia aqueles a quem identificam como algozes de suas desgraças. Mais do que justiceiro, Sergio Moro revelou ter um projeto de poder. Se este colide ou colidirá com o do presidente Jair Bolsonaro, é um bom problema para as urnas. De políticos, gosta-se ou não. Para os tribunais, basta o respeito.
MARIA CRISTINA FERNANDES ” VALOR ECONÔMICO” ( BRASIL)