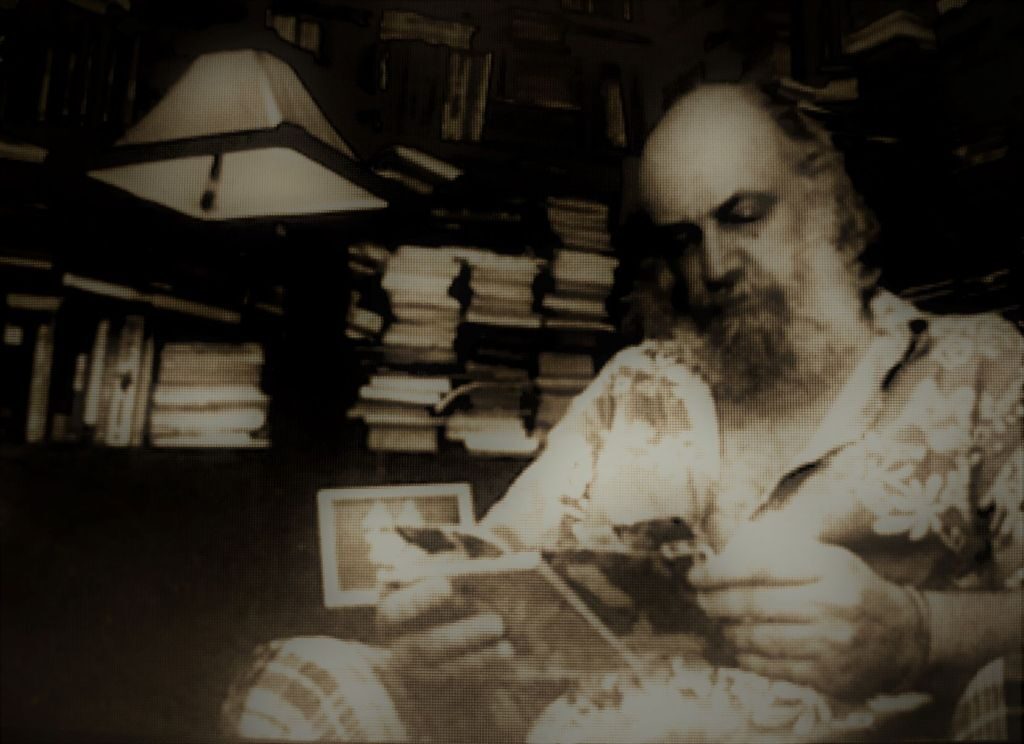
Desde que tudo isso começou, um medo infantil do invisível, um sobressalto renitente, um monte de saudades misturadas, uma sensação estranha de espera, o insondável do silêncio na solidão, tantos sentimentos difíceis de descrever teimavam no peito, represados, até transbordarem na manhã da última segunda-feira, 4 de maio deste 2020, com a notícia da morte do Aldir.
O balde de mágoas já vinha enchendo, enchendo, enchendo, desde as mortes do Daniel Azulay, do Moraes Moreira, do Rubem Fonseca, do Garcia-Roza, do Tantinho, do marido da prima, da vizinha da mãe, do médico primo do amigo… e, aí, veio a notícia do Aldir – e o balde transbordou.
Aldir Blanc Mendes, 73 anos, carioca do Estácio, ex-psiquiatra, músico, compositor, poeta que me provocava “desastres sinistros de amor”, como o personagem do samba-canção dele e do Maurício Tapajós, morreu pra ficar.
Era um cara maior no talento e na decência, superlativo de homem bom, sujeito de afetos profundos e rascantes, camarada sublime como o Álvaro de Campos, heterônimo do Fernando Pessoa e, talvez, a encarnação passada dele, Aldir.
O medo, o sobressalto, as saudades misturadas, a sensação de espera no insondável do silêncio, todos esses sentimentos represados derramaram na quinquagésima manhã da minha quarentena solitária em São Paulo, a uns 500 quilômetros da Tijuca do Aldir, a uns 500 quilômetros do meu Morro Agudo querido e da ladeira Cardoso Júnior do meu coração, no alto de Laranjeiras, a centenas de quilômetros de tantos grandes amores da minha vida.
Ouvi “Vida noturna”, ouvi “Dois bombons e uma rosa”, belezuras que o Aldir compôs sozinho. Ouvi “Flores de lapela”, dele e do Maurício Tapajós. Ouvi “Santo Amaro”, dele e do Luiz Cláudio Ramos e do Franklin da Flauta. Ouvi “50 anos”, dele e do Cristóvão Bastos, ouvi “Me dá a penúltima”, dele e do João Bosco, ouvi “Lupcínica”, dele e do Jaime Vignoli.
Ouvi quase tudo do Aldir, sob um céu esquisito, de nuvens que chupavam manchas torturadas, e, sentindo frio em minh’alma, com o coração pisado como as pedras do cais, perguntei pro vento contaminado de São Paulo aonde fomos dar neste outono de 2020, com tanta gente que partiu. Tanta gente.
Chorei um pouco, mentira, chorei muito, e pensei que não consola saber que o Aldir se foi pra se juntar, por exemplo, e especialmente, ao Alfredinho do Bip Bip.
Porque o que eu desejei mesmo, cacete, era que os dois, o Aldir e o Alfredinho, ainda estivessem aqui pra gente combinar uma roda de samba logo mais com o seu Wilson Moreira, com o seu Walter Alfaiate, com o seu Elton Medeiros e o meu irmão Lefê Almeida, os dois já de bem.
E ainda o Tantinho, o Garcia-Roza, todo mundo vivo da Silva no Bip Bip, onde os maluquinhos João Pinel e Dalila encheriam nosso saco e nosso coração, e também estariam lá outras grandes paixões que tivemos na vida, e que a vida sem perdão nos tirou.
– Nenééém!!! – gritaria, rouco, o Alfredinho ao ver o Aldir chegar.
– Seu grande filho da puta!!! – responderia o Aldir, sempre assim, pungentemente carinhoso, os dois já se beijando no rosto, e nós todos rindo, rindo, rindo.
* * * * *
Desde que tudo isso começou, tive mais de uma vez o mesmo sonho. Nele, já ficou tudo bem, o Aldir nem morreu, acho que nem o Alfredinho, talvez nem o Moraes, o futebol no Brasil voltou, o Flamengo venceu de novo o Campeonato Brasileiro e, agora, está em campo pra mais uma final da Copa Libertadores.
Não consigo saber qual o time adversário, nem quanto está o jogo, porque, quando tento reparar no placar e nas camisas do lado de lá, puf, o sonho acaba.
Até que na penúltima madrugada, a segunda depois da morte do Aldir, o sonho avançou um pouco mais e me deixou ver que eu mesmo estava em campo pelo meu Flamengo. O time devia ter 12 jogadores, porque todos os titulares também estavam no gramado verdinho, verdinho do Maracanã apinhado, do Diego Alves ao Gabigol, do Rafinha ao Bruno Henrique.
No meio da torcida, eu conseguia ver muitos amigos, e até eu mesmo, duplicado nos papéis de torcedor e jogador.
O sonho avançado ainda me deixou ver que, no time adversário, jogava, cruz-credo, o Bolsonaro. Acho até que, esconjuro, mais de um Bolsonaro.
Acordei antes do apito final e sem conseguir ver o placar. Mas algo no meu coração e na reação da torcida, onde estávamos vários de mim, o ar livre de vírus, rescendendo somente a suor, tudo apontava pra uma esperança equilibrista, pra uma sensação boa de que, no fim, acolhido o futuro de braços abertos, venceríamos.
* * * * *
Desde que tudo isso começou, eu vinha tentando escrever sobre o que acontece desde que tudo isso começou.
Tanta gente escreveu antes e melhor.
* * * * *
Desde que tudo isso começou, tenho revisitado o primeiro capítulo do mais recente livro do Ruy Castro, “Metrópole à beira-ar”.
Bonito, essencial pra quem ama o Rio e sua História, o livro do Ruy leva a gente a uma viagem lúdica pela década de 1920, com suas mulheres libertas, de cabelos curtos e decotes compridos, os escritores todos festejados nos saraus, tudo num tempo de centenas de livrarias e dezenas de editoras numa cidade ali feliz, muito feliz, mas que fracassaria renitentemente logo depois, a partir da Revolução de 1930, até os nossos dias, a ponto de ter eleito vereador um filhote de capiroto, e depois deputado, e depois… deu no que deu.
O primeiro capítulo do livro do Ruy fala da gripe espanhola, da pandemia que dizimou um terço da população do Rio, em 1918, até desaparecer meses depois como havia chegado – sem explicação e sem remédio.
O fim da pandemia de 1918, relata o Ruy Castro, desaguou no “melhor carnaval do século 20”, em 1919, porque libertou do confinamento uma multidão maravilhada na comemoração da sobrevivência.
* * * * *
Como o Aldir cantou pro seu Salgueiro, num samba bonito toda vida, “Lua sobre sangue”, dele e do Cláudio Jorge, não basta o paraíso inteiro pra saudade que a gente sente.
MARCEU VIEIRA ” CRONISTA DIGITAL” ( BRASIL)