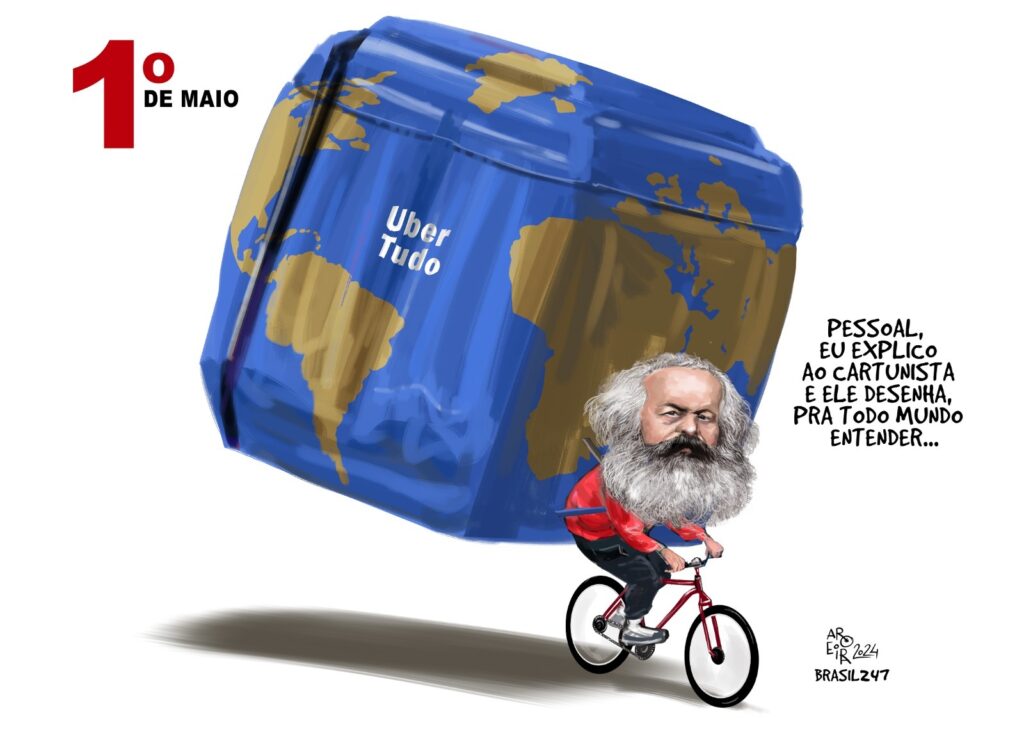
Conversa do autor com Salvador López Arnal sobre o livro recém-lançado
Alexis de Tocqueville e Karl Marx?
A primeira razão – permita-me dizer a você – é uma pretensão de desfazer os erros, corrigir a história que, tanto quanto sei, nunca colocou frente a frente estes dois homens, mentes brilhantes, capazes de perceber os detalhes mais profundos de seu tempo. Parece-me inconcebível que não tenham se conhecido. A outra tem a ver com a segunda parte da pergunta. Gostaria de sugerir que não, não se trata de pensadores tão díspares.
Vejamos a questão da seguinte forma: Alexis de Tocqueville chega à América, numa viagem relativamente curta, vindo da França revolucionária – onde corria muito sangue no parto da nova sociedade – e encontra um mundo em que essa sociedade nascia “naturalmente”, sem conflitos (se desconsiderarmos, como ele fez, o destino trágico dos indígenas). A democracia na América é, em muitos aspectos, um retrato impressionista dessa sociedade que nasce.
Por um lado, uma sociedade de proprietários de terra, capitalista, na qual cada um possui a terra em que pode trabalhar pessoalmente. Por outro lado, uma estrutura política – a democracia – à qual dedica sua atenção, mas não sem antes nos advertir que está longe de acreditar que os norte-americanos “tenham encontrado a única forma de governo que a democracia pode adotar”.
Isto permite-nos identificar a democracia como a forma de governo dessa sociedade, a sociedade capitalista que surge na América, na qual Tocqueville identifica uma “igualdade completa de condições” (não esqueçamos que seu ponto de comparação é a velha sociedade feudal europeia que se desmorona aos poucos). Esta identificação entre sociedade capitalista e democracia é fundamental no meu livro, porque me parece que o principal desafio para quem trabalha com o conceito de “democracia” é definir o conteúdo de uma palavra que deixou de ser um substantivo para se transformar num adjetivo que qualifica todas as ações que qualquer ator político pretenda posicionar no cenário em que atua.
Parece-me que Tocqueville vê os fatores essenciais dessa sociedade, os mesmos em que Marx se baseia para analisá-la e prever seu desenvolvimento e transformação. Tocqueville descreve um mundo que vê nascer diante de seus olhos. Marx faz o mesmo, com um mundo que vê nascer, não diante de seus olhos, mas diante de sua mente. Uma mente poderosa, que soube apreender os elementos-chave dessa sociedade capitalista, cujo desenvolvimento e contradições levariam ao surgimento de outra sociedade: a socialista.
Um fenômeno que, em minha opinião, se desenvolve hoje diante de nossos olhos, de forma muito variada e, como não podia deixar de ser, não necessariamente coincidente com o que foi exposto em livros escritos há mais de cem anos. Assim, ao que me parece, não é difícil pôr em diálogo estes dois homens, interessados no surgimento de novas formas sociais e capazes de vislumbrar os elementos essenciais dessa transformação, as classes sociais da sociedade que analisam.
A busca da igualdade é o grande motor da história
Esta frase é maravilhosa, certamente uma das mais profundas que se encontram no texto de Tocqueville: “Quando percorrerem as páginas de nossa história, não encontrarão, por assim dizer, nenhum acontecimento importante nos últimos seiscentos anos que não tenha sido orientado em proveito da igualdade”[i]. Não vou entrar aqui em detalhes sobre esta ideia de “igualdade”. Vejo as duas proposições a que você se refere em níveis diferentes.
Observe os elementos que Tocqueville cita em apoio de sua tese. Menciono apenas alguns: as Cruzadas e as guerras dos ingleses, que “dizimam os nobres e dividem suas terras”; a instituição dos municípios, que “introduz a liberdade democrática no seio da monarquia feudal”; ou a descoberta das armas de fogo, que “equipara o vilão ao nobre no campo de batalha”. O conceito de “luta de classes” de Marx, em minha opinião, refere-se à forma de convivência em todas as sociedades existentes, desde a sociedade primitiva.
Falemos da sociedade moderna, capitalista, e de suas duas classes (uma classificação teórica que, como sempre acontece quando se passa à história, deve ser matizada, com todos os cinzas da realidade, como o faz, por exemplo, Lênin, em O desenvolvimento do capitalismo na Rússia), que conhecemos bem, pois vivemos nela todos os dias. Como bem sabemos, esta “luta” pode ser regulada por leis mais ou menos equitativas (de acordo com a correlação de forças existente no momento de sua elaboração), ou pode ser arbitrária, regulada apenas pela força dos vencedores, como aconteceu depois da Guerra Civil espanhola, ou do triunfo do golpe militar no Chile em 1973.
Para mim, ambos os sistemas têm feito parte da forma de governo da sociedade capitalista e, portanto, da democracia (estamos usando aqui o termo numa acepção precisa, e não como se faz frequentemente hoje em dia, em que o conceito é usado para qualificar não só as mais diversas situações históricas, mas também as posições políticas mais opostas). No primeiro caso, quando a sociedade convive sob regras reconhecidas e aceitas, com pluralidade de partidos e opiniões, dizemos que vivemos numa “democracia”. Caso contrário, chamamos a situação de uma “ditadura”. Para mim, as duas formas são, como qualquer pessoa pode observar ao estudar a história moderna, as duas faces da mesma moeda, são formas políticas da sociedade capitalista. São, portanto, dois momentos dessa “convivência”, aspectos da luta de classes a que Marx se refere.
Em minha opinião, o conceito de “luta de classes” em Marx não está relacionado com uma luta sangrenta, armada. Por vezes, pode até ser isso, e nós sabemos disso muito bem. Mas inclui também outros períodos históricos, em que essa confrontação se desenrola em marcos constitucionais e legais. Nesse sentido, o conceito de “luta de classes” estaria mais relacionado com o de “mais-valia”, que é a outra forma de convivência na sociedade capitalista, mas já estaríamos indo longe demais nestas considerações…
As tribos indígenas primitivas americanas
É certo que algumas das afirmações de Tocqueville sobre esse assunto são chocantes para um cidadão de hoje. Mas coloquemo-nos na época (e esqueçamos, por um momento, as considerações morais).
Tocqueville viu surgir diante de seus olhos uma nova sociedade, cujo nascimento, em seu próprio país, resultava em ondas de sangue. Na América, porém, a nova sociedade não enfrentava a poderosa resistência da nobreza e do clero europeus. Espalhava-se com pouca resistência, se compararmos a situação dos dois lados do Atlântico. Os indígenas americanos não eram mais um obstáculo do que – digamos assim – os Apalaches ou o Missisipi.
Nesta matéria, podemos sempre entrar em considerações morais, ponderar o massacre de enormes populações que significou a colonização deste espaço por imigrantes europeus. A espécie humana gosta de olhar com pudor para estas coisas, fala de “humanizar” uma situação quando critica uma barbárie. Mas, outra vez, se olharmos para a história, talvez não devêssemos esforçar-nos tanto para “humanizar” as coisas. Os resultados de tais tentativas foram muitas vezes dramáticos.
O conceito de democracia
Não penso, nem pretendo, definir um conceito “razoável” ou “justo” de democracia em meu livro. Tento encontrar um conceito operacional, despido de polissemias, que sirva para analisar uma dada realidade histórica. É por isso que defino a democracia como “o regime político da sociedade capitalista”. Claro que sei que o conceito é utilizado para definir o regime político da sociedade escravagista da Grécia antiga, e também conheço o debate sobre o socialismo e a democracia, que, aliás, se pretende resolver, demasiadas vezes, com a utilização de adjetivos: democracia real, democracia proletária, democracia socialista, etc. A utilização de adjetivos apenas mostra a impotência de avançar nesta questão; não ajuda.
Mas o fato é que o conceito de “democracia”, utilizado após a Segunda Guerra Mundial em todo o mundo e, em nossos países – na Espanha ou nos países da América do Sul, que foram submetidos a ditaduras a partir dos anos 60 –, serviu de contraposição ao nazismo e, mais tarde, ao comunismo. E, por várias razões, cada vez menos pessoas, ou partidos, queriam associar-se a estes sistemas; todos queriam ser “democráticos”. Por isso, todos querem apresentar-se como democratas, incluindo os franquistas do PP ou os pinochetistas da Alianza, no Chile.
Mas sabemos muito bem que não se tratava disso. Para citar apenas um exemplo bem conhecido, Franco não teria se sustentado sem o apoio das “democracias” ocidentais, nem qualquer uma das ditaduras militares na América Latina. O que estava em jogo era outra coisa. Em minha opinião, os interesses econômicos. Em relação ao socialismo (e refiro-me aqui ao comunismo do leste europeu), este foi imposto pela ocupação soviética após a Segunda Guerra Mundial. Atribuo grande importância a isto. Quando essa ocupação se tornou insustentável (e confesso que não posso deixar de ver com simpatia essa aspiração à liberdade, cuja expressão, dentre outras, foi, evidentemente, a “Primavera de Praga”), o socialismo também caiu.
Destaco isso em meu livro e digo que o socialismo só sobreviveu nos países onde foi imposto como resultado de uma luta nacional, como nos casos de China, Cuba ou Vietnã (sei que, ao dizer isto, estou abrindo outro debate, sobre o que é o socialismo, ou se estes países são socialistas, etc. Isso é tema de outra discussão, ligada a esta, mas em outro espaço).
Para mim, o conceito de “democracia” não tem nada a ver com os de razoabilidade ou justiça. É o regime político do capitalismo, exercido, muitas vezes, e cada vez mais, com cinismo e crueldade. Vejo a ideia de justiça – e de igualdade, como nos lembrava Tocqueville – ligada a estas grandes transformações, a esta marcha da humanidade que se desenvolve diante de nossos olhos à custa de enormes sofrimentos para a imensa maioria, e cujo fim nunca foi tão incerto, face aos desafios políticos e ambientais, à capacidade de destruição militar com a qual nos deparamos.
O socialismo de Karl Marx
Penso que, por socialismo, Marx entende a sociedade que sucederá ao capitalismo, tal como o capitalismo sucedeu ao feudalismo. Estamos falando de formas de propriedade. Os meios de produção, no socialismo vislumbrado por Marx, foram expropriados pela sociedade, tornaram-se propriedade coletiva.
Para mim, foi em torno desse debate que se desenvolveram as grandes lutas políticas do século passado, e esse processo está em pleno andamento diante de nossos olhos. Tão perto que, às vezes, não o vemos com suficiente clareza. Decorre também sob uma enorme variedade de formas que, talvez, ainda não tenham sido estudadas com o detalhe que merecem. Mais uma vez, é preciso ter muito cuidado ao estudar a visão teórica dos clássicos, escrita há 150 anos, e seu desenvolvimento histórico, com uma variedade infinita de formas, o que não facilita a análise.
A democracia refere-se, a meu ver, a outra realidade. Para Marx, creio, essa democracia estava relacionada com o fim das classes sociais, com o processo de expropriação dos meios de produção pela sociedade.
Mas é evidente que falta aqui um detalhe importante: qual será a forma política dessa nova sociedade? Talvez, como nos advertiu Tocqueville, referindo-se à forma política que surgia na América, própria da sociedade capitalista, não há uma única forma possível.
A democracia, então, para Marx, está relacionada com a forma de produção, mais do que com o sistema político que a representa. É por isso que, nos países que hoje chamamos socialistas, temos um setor tão grande (e variado) de propriedade estatal, associado a formas políticas diversas, baseadas num partido único.
Com o desaparecimento da propriedade privada dos meios de produção, o debate desloca-se, entre outras coisas, para a liberdade de expressão. Estamos satisfeitos com a “liberdade” representada pelos meios de produção concentrados em cada vez menos mãos de supermilionários? Certamente que não. Estamos satisfeitos com a liberdade representada pelos meios de comunicação nas mãos do Estado ou de setores sociais (mas não como sociedade privada, com fins lucrativos)?
Também acho que não; muitas vezes sentimos que estes meios de comunicação não transmitem os problemas sociais de forma suficientemente clara. Mas não podemos pretender resolver o dilema devolvendo os meios de comunicação a mãos privadas, cujo controle depende apenas dos recursos que alguém tenha para comprá-los. Este é um debate importante sobre a necessidade humana de liberdades, mas também de igualdades, que, segundo Tocqueville, é ainda mais importante.
O processo de democratização na Europa e na América
Penso que a diferença entre esses dois processos reside na seguinte perceção de Tocqueville: “Embora o vasto país que acabamos de descrever tivesse sido habitado por numerosas tribos indígenas, pode se dizer com segurança que, na época da descoberta, não era mais do que um deserto. Os indígenas ocupavam-no, mas não o possuíam. É através da agricultura que o homem se apropria do solo”.[ii]
Na Europa, a situação era radicalmente diferente e Tocqueville também a resumiu com exatidão: “Volto por um momento ao que era a França há 700 anos. Encontro-a dividida entre um pequeno número de famílias que possuem a terra e governam os habitantes”. E acrescenta: “não se reconhece outra origem do poder senão a propriedade fundiária”[iii]. É, pois, nesta forma de propriedade que reside o segredo da diferença entre os dois processos políticos: o da França e o dos Estados Unidos.
Penso que, neste aspecto, os dois viram as coisas de forma bastante semelhante. Mas cada um analisou as consequências disso de uma forma diferente. Marx, mais orientado para as contradições que essa forma de propriedade gerava (para a transformação da propriedade agrária em propriedade capitalista), previu a transformação do capitalismo em socialismo. Tocqueville não estava interessado nisso. Estava deslumbrado com as condições em que se desenvolvia a democracia na América, essa forma de organização social que tentava abrir caminho na Europa sobre os escombros do feudalismo.
Mercados versus soberania popular
Este é um bom exemplo da dificuldade do debate. Sem definir o conceito de democracia, é impossível responder à pergunta. Prefiro uma abordagem diferente: com o que o capitalismo é compatível? Com tudo o que assegura seus direitos de propriedade. Se, em determinadas circunstâncias, tiver que quebrar as regras do jogo, acabar com a Constituição, violar todas as leis, fará isso sem grande dificuldade. Depois, justificará tudo isso de uma forma positiva. Basta olhar para todas as proclamações golpistas, sempre invocando a democracia e a liberdade.
Portanto, do meu ponto de vista, o capitalismo não só é compatível com a democracia, como a democracia é a forma política de existência do sistema capitalista, tal como eu o defini. Ora, estamos falando de uma forma política que pode coexistir com as leis, mas que também as tem violado com muita frequência, sempre que os setores interessados veem ameaçada a forma de propriedade que caracteriza este regime.
Por outro lado, abordo o tema do mercado. Digo no livro que o mercado está para a sociedade moderna como a lei da gravidade está para a vida na Terra. A lógica do mercado não é a concorrência, mas o triunfo do mais forte, a concentração do capital. A lógica do Estado – digamos assim – deveria ser a da sociedade em seu conjunto, incluindo o cuidado dos mais fracos. O problema não está no mercado, mas em quem controla esse mercado. Se a economia for controlada pelas transnacionais e, sobretudo, pelo capital financeiro, são seus interesses que prevalecerão e o Estado estará a serviço desses interesses.
Portanto, não existe essa dicotomia Estado-mercado. As duas palavras escondem os atores sociais envolvidos nessa dicotomia. Quando falamos de “mercado”, estamos na verdade ocultando os nomes daqueles que atuam e controlam esse mercado, os proprietários do grande capital. Quando falamos de Estado, acontece a mesma coisa.
Estamos falando de um capital que escapa das mãos dos grandes capitalistas, que não se resignam a ser excluídos de qualquer parte de negócios possíveis e dos respectivos lucros. É por isso que, nas últimas décadas, o grande debate político tem girado em torno das privatizações. Por trás de cada ajuste, estas privatizações reaparecem, quer sob a forma da compra (muitas vezes fraudulenta) de poupanças públicas, quer sob a forma de fusões, que aceleram o processo de concentração do capital, que está na própria origem desta crise.
Karl Marx e a sociedade capitalista atual
Parece-me que Marx é provavelmente o mais perspicaz analista da sociedade capitalista. Ele desvendou as leis básicas de seu funcionamento, das quais derivou o prognóstico de seu desenvolvimento e de seu fim, substituído por outra forma de organização social: o socialismo.
Um livro (ou vários livros) poderia ser escrito sobre isso, o que não é o caso aqui. Mas quem procurar nos textos de Marx (note-se que nunca falo de “marxismo”, para não entrar em mais uma polêmica interminável) a receita para a interpretação de cada acontecimento histórico concreto (a palavra-chave aqui é “receita”) vai encontrar-se no meio de uma selva emaranhada, da qual não sairá com vida.
Nada substitui o estudo do estado atual de desenvolvimento das sociedades modernas, que não é outra coisa senão o estudo de seu estágio de desenvolvimento capitalista, das caraterísticas do capitalismo nessa sociedade. E, sem um certo conhecimento das propostas de Marx, creio que a análise careceria de elementos teóricos básicos. (Pensando no assunto, lembro-me de um dos livros que me parece ser uma grande fraude intelectual. Refiro-me à História Econômica Geral de Max Weber).
Assim, parece-me indispensável, para compreender o funcionamento da sociedade capitalista, saber o que Marx escreveu sobre o assunto. Mas Marx escreveu muito, sobre muitos assuntos. E suas previsões sobre as formas históricas do desenvolvimento da sociedade têm que ser confrontadas com o desenvolvimento real. Nesta questão, o próprio Marx, um homem de formidável erudição, cometeu erros como sua análise do papel de Simon Bolívar na independência da América, num texto – “Bolívar e Ponte” – que se encontra na New American Cyclopedia.
O Estado segundo Marx
Esse é outro grande debate, se existe ou não uma teoria do Estado em Marx. Naturalmente, dentro dessa corrente, é mais simples procurar em outros clássicos do marxismo, como Lênin, uma teoria sobre esse assunto. Eu disse uma vez que o Estado “é a grande empresa dos que não têm capital”. Isso tem alguma coisa a ver com a abordagem leninista do Estado? Imagino que muitos dirão que não.
Em todo o caso, atrevo-me a dizer que a proposta tem muito de “marxista”, se nos detivermos no método de análise da realidade histórica que, a meu ver, é essencial na epistemologia de várias vertentes das ciências sociais, incluindo a que deriva de Marx. Mas, para tentar responder à sua pergunta, penso que é uma visão demasiado estreita do problema afirmar simplesmente que o Estado “é o conselho de administração ampliado das classes dominantes”. Isso não esgota a questão, nem sequer em seu aspecto essencial.
Abordando o assunto de um outro ângulo, parece-me um erro, nesta matéria, partir, por exemplo, da formulação teórica do “desaparecimento” do Estado e começar a ver se os Estados socialistas hoje existentes foram desaparecendo, isto é, adaptando-se à teoria (que, aliás, nesta questão, se presta a múltiplas interpretações), em vez de analisar o que ocorre realmente com as diversas formas de Estado existentes no mundo moderno, ou com as que existiram no socialismo soviético e depois desapareceram. Parece-me mais importante estudar isto do que entrar num debate teórico baseado em frases de há pelo menos um século, em vez de analisar como o conceito se desenvolveu historicamente nos anos mais recentes.
A geração que viveu sua vida política na época da Guerra Fria
Curioso! Para minha geração, na América Latina, a Guerra Fria significou a imposição de ditaduras nazi-fascistas em nome da liberdade e da democracia. Eu tinha apenas 16 anos quando, em 1964, um golpe militar no Brasil abriu um novo período de ditaduras na região, que culminou quase dez anos depois com a derrubada de Salvador Allende no Chile, em setembro de 1973. E eu ainda não tinha onze anos quando os rebeldes da Sierra Maestra entraram triunfalmente em Havana, em janeiro de 1959, desencadeando uma verdadeira histeria entre os setores mais conservadores que dominavam o continente.
De certa forma, era ali, na América Latina, que se travavam as principais batalhas entre estes dois mundos, cujos chefes eram Washington e Moscou. Uma geração privilegiada, sem dúvida, e que pagou um preço muito alto por estar nesse palco. Milhares de pessoas desaparecidas, assassinadas, torturadas, presas, exiladas, que pagaram com a vida o preço de seus sonhos.
Só quando se quebrou, manu militari, o ímpeto reformista dessa geração, e essa vitória foi coroada com a queda do socialismo no leste europeu, é que se estabeleceu um novo cenário político no mundo. Acentuou-se o processo de globalização, impulsionado não só pelas mudanças políticas, mas também pelos avanços tecnológicos, e as políticas neoliberais acentuaram as disparidades sociais a extremos inimagináveis.
Mas, por outro lado, libertou-nos de um fardo que, em muitos aspectos, nos imobilizava. O fato de que o socialismo do leste europeu estava baseado na ocupação militar – em primeiro lugar, dos Estados membros da União Soviética, mas também dos países da Europa de Leste – criava uma contradição, um desconforto, especialmente na América Latina, onde a vida política se alimentava dos esforços de libertação nacional daqueles que, como nós, estávamos sujeitos à outra potência neste conflito. Com o fim da Guerra Fria, uma lufada de ar fresco inundou esse cenário. Reativou a necessidade de voltar a pensar com as nossas próprias cabeças sobre questões como a que estamos discutindo nesta entrevista e no livro que lhe deu origem.
Quem ganhou essa guerra? A resposta é óbvia: venceu o Ocidente e sua capital, Washington. Mas o óbvio obscurece muitas vezes o profundo. Mal passaram 20 anos desde a queda do Muro de Berlim (um episódio cheio de contradições que me inundou de emoções) e vejam como, por todo o lado, se renova o ímpeto e a necessidade de avançar com as reformas profundas que os vencedores da Guerra Fria sonhavam fazer desaparecer para sempre.
O fim da Guerra Fria parecia um sonho que nem os mais otimistas – nem os mais bem informados – do lado vencedor se atreviam a tecer. Veja-se, por exemplo, o texto de Richard Nixon – uma das melhores mentes políticas do tempo da Guerra Fria – A verdadeira guerra, publicado em 1980, em que afirma que a Terceira Guerra Mundial já tinha começado. É um livro muito interessante para ler agora que a Guerra Fria acabou. A angústia deste setor era a possibilidade de perder a guerra e Nixon propunha medidas fortes para evitar que isso acontecesse.
O resultado foi como um sonho para muitas pessoas de ambos os lados. Era preciso ter uma mente muito fria e aguçada para conseguir perceber as consequências do que estava acontecendo. Entre os vencedores, havia um inevitável sentimento de euforia, que não poderia ter sido mais bem expresso – nem mais superficialmente – do que no livro de Francis Fukuyama, O fim da história e o último homem, em que ele apresenta a ideia de uma democracia liberal como o ponto final da evolução ideológica da humanidade, sua forma final de governo.
Mas há a realidade, majestosa, mostrando que esse sonho teve pernas curtas. Sob as formas “democráticas” impostas na América Latina após as ditaduras (algo semelhante acontecia ao mesmo tempo no sul europeu), as disparidades sociais acentuaram-se, a riqueza concentrou-se e a pobreza alastrou-se. Como explicar isto? A teoria preferiu muitas vezes separar o político do econômico e aplicar o termo “democracia” apenas ao primeiro. Como explicar, então, o outro? E a relação entre ambos?
O que aconteceu foi que a política e os políticos foram desacreditados, enquanto as grandes maiorias viam seu nível de vida deteriorar-se à medida que esta “democracia” se consolidava. Para os vencedores, este era o único caminho, o da “modernidade”, e todos nós tínhamos que nos restringir aos seus limites. Veja o resultado! Depois das receitas desastrosas do FMI para a América Latina, agora é a Europa que quer se submeter a este processo. Isso será possível? Penso que não, pelo menos sem grandes resistências. E se conseguirem impor tal coisa, o que acontecerá é que as tensões se agravarão. Um caminho que me parece totalmente inconveniente.
A liberdade dos antigos e a dos modernos
Trata-se de um debate muito francês, cujas origens remontam a Benjamin Constant (1767-1830), um francês de origem suíça, e que é retomado por muitos teóricos modernos, entre os quais Alain Touraine. Constant comparava a liberdade dos “antigos” com a dos “modernos” numa conferência proferida no Ateneu de Paris, em fevereiro de 1819. Ali, destacou que “a finalidade dos antigos era compartilhar o poder social entre todos os cidadãos de uma mesma pátria. Era a isto que chamavam liberdade. A finalidade dos modernos é a segurança dos prazeres privados; e chamam liberdade às garantias que as instituições conferem a esses prazeres”.
Contemporâneo de Tocqueville, Constant escrevia numa época de profundas transformações e reivindicava o direito de uma burguesia nascente que exigia seus direitos à nobreza e ao clero do Ancien Régime. A liberdade individual, afirmava Constant, “é a verdadeira liberdade moderna”.
Touraine retoma o tema, entre outras, em sua obra O que é a democracia? Obcecado pelo que considera a maior desgraça do continente europeu no século passado, o totalitarismo, Touraine apresenta uma proposta que reivindica o direito do indivíduo diante desta ameaça totalitária. Retomando a ideia dos “antigos” e dos “modernos”, considera que estes conservam daqueles a ideia de soberania popular, “mas implodem as ideias de povo, nação e sociedade, das quais podem nascer novas formas de poder absoluto, para descobrir que só o reconhecimento do sujeito humano individual pode fundar a liberdade coletiva, a democracia”[iv].
Na minha opinião, as formulações de Touraine sobre o assunto tornam-se cada vez mais obscuras, difíceis de seguir, à medida que a natureza do Estado moderno desaparece da análise, em que a luta contra a nobreza e o clero, que alimentava o texto de Constant, é hoje substituída por uma burguesia cuja preocupação é agora manter o status quo, em particular seu direito à propriedade. Esta diferença desaparece em Touraine e, para mim, está na base de uma formulação confusa, que o impede de ver que, na sociedade moderna, os direitos dos cidadãos são frequentemente muito mais ameaçados não pela onipotência do Estado, mas por sua ausência.
O socialismo na China
É um debate muito atual e que penso ser ainda muito difícil de “resolver”. Sugiro apenas uma forma de abordá-lo. Mais uma vez, a história parece-me fundamental: a origem, a forma de desenvolvimento desta revolução, as formas de propriedade que desenvolveu. É nessa história que se encontram muitas das chaves do socialismo chinês.
Quem tentar analisar o caso apenas com a bagagem teórica do século XIX (ou, pior ainda, com a ideia de que o socialismo é o caminho para a felicidade, para o Paraíso) fará, na minha opinião, poucos avanços. O que eu sugiro é que façamos o caminho inverso.
Dispomos de uma base teórica sobre o socialismo para abordar a questão. Os textos mais clássicos foram escritos quando esta realidade era apenas uma visão teórica, mas não uma realidade histórica. Podia ser vislumbrada, mas ainda não tinha sido vivida. Mas isso mudou, esta transição começou a tornar-se uma realidade há três ou quatro gerações, e não podemos avançar no debate sem analisar o que está acontecendo diante de nossos olhos. Esta é a forma real, concreta e histórica de como está ocorrendo esta transição. Não é como alguns textos previam? Não, não é. Mas é sempre assim que acontece. Podemos prever, teorizar, definir as grandes linhas. Mas, depois, a realidade encarrega-se de enriquecer essa teoria, de lhe dar concretude.
Em minha opinião, o processo de transição do capitalismo para o socialismo está desenvolvendo-se diante de nossos olhos e a China é, neste momento, a parte mais importante desse processo, por razões óbvias, devido ao peso de seu território, sua população, sua cultura e sua economia. Mas compreendo – e parece-me lógico que surjam dúvidas perante fenômenos tão novos – as dificuldades da teoria em apreender esses processos.
A construção socialista em Cuba
Antes de tudo: Cuba é, para mim, uma realidade cativante. Como já disse, ainda não tinha onze anos quando a revolução triunfou. Por isso, cresci vivendo de perto o desenvolvimento desse processo. E o que era isso para nós? Primeiro, a luta contra a infame ditadura de Batista. Depois, uma tentativa de dignificar um país que tinha sido transformado numa base de operações da máfia norte-americana. Mas quem se aproximasse da história dessa revolução encontraria um fio condutor, a história de um país que, desde suas lutas pela independência, enfrentava o desafio de não ser absorvido pelos Estados Unidos, cujos governantes não escondiam a ideia de incorporar a ilha à nação.
Martí, cujo ideário Fidel Castro defendeu desde o início de sua revolução, já tinha alertado para isso. Essa luta pela independência nacional sempre mereceu meu maior respeito e parece-me que, sem entender isso, nada mais se pode entender. Não se trata de um nacionalismo xenófobo, como o que se estende hoje pela Europa, mas do reconhecimento dos valores nacionais que constituem o caráter de um povo, que é a base da convivência com os demais povos da Terra.
Esta reivindicação nacional, em plena Guerra Fria, não podia escapar à divisão do mundo em blocos, e Cuba pagou um preço alto por isso. Tal como eu simpatizava com a luta nacional dos povos da Europa do Leste, simpatizo com a luta de Cuba por sua independência. Num caso, isso implicava implicitamente a luta contra o socialismo (embora isso não me pareça justificar as tendências fascistas que surgiram nos Estados do antigo bloco soviético). No caso de Cuba, pelo contrário, conduzia à reafirmação do socialismo, contra os interesses de Washington.
Entretanto, uma resposta mais concreta nos obrigaria – uma vez mais – a começar pela definição de democracia. Prefiro proceder de outra forma. Parece-me que Cuba tem todo o direito de escolher seu modelo de desenvolvimento, e que não se lhe pode pedir que abra as portas ao capital de Miami para transformar seus processos eleitorais numa competição regida pelo dinheiro; nem que faça algo semelhante com seus meios de comunicação.
O que lhe resta é o desafio de avançar, dentro de seu modelo de desenvolvimento socialista, na satisfação das necessidades de sua população e garantir o direito de todos a expressarem-se, dentro desse modelo, porque, de outra forma, a falta de liberdade asfixiaria qualquer processo. Para isso, é essencial eliminar o bloqueio ilegal a que Cuba está sujeita há meio século, que foi rejeitado praticamente por unanimidade pela Assembleia das Nações Unidas e que tem um custo multimilionário para um país em desenvolvimento como Cuba.
Livros e autores
Foram muitos autores abordados no livro que inspiraram e inspiram os movimentos de crítica e renovação democrática e social que irromperam há mais de duas décadas em vários países latino-americanos. Desde já, os latino-americanos. Não se trata de citá-los, nem por ordem de importância, nem por ordem alfabética. Cada um poderá procurar, numa imensa variedade de textos, aquilo que o inspira e o faz pensar. Um esforço que mostra a importância do tema – para citar apenas um caso – está reunido em La democracia en América Latina, publicado em 1995 no México pelas Edições La Jornada e pelo Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades da UNAM.
Coordenado por Pablo González Casanova e Marcos Roitman, reúne a enorme riqueza do pensamento sobre o tema na região. Alertam-nos ali que “não é possível fechar a história da América Latina, pensando que a democracia já está quase instalada e que só falta garantir seu funcionamento legal”. Esta forma de pensar, contra a qual os autores nos advertem, deu origem a uma série de trabalhos sobre a “qualidade da democracia”, como se fosse esse o nosso problema…
A oportunidade dessa conversa me motivou a reatar o contato com dois livros, cuja leitura foi particularmente estimulante. Um deles é o líder trabalhista britânico do pós-guerra, de meados da década de 1940, Harold Laski, sobre O liberalismo europeu.[v] Parece-me um livro incisivo, brilhante e esclarecedor. Como Laski sentiu falta de um trabalhismo nas mãos de Anthony Giddens! Como algo assim podê acabar nas mãos de personagens como esse! O outro, que me deu um prazer renovado, foi Democracia e socialismo, de Arthur Rosenberg.[vi]
Este é um livro que nos enlaça com os clássicos, que nos remete a um velho estilo de erudição e clareza, que renova o prazer da leitura. Creio que, após um período de certo ostracismo, a obra de Rosenberg foi resgatada por uma ciência social que precisa tanto redescobrir certas raízes como se renovar.
Agora mesmo, estamos empenhados neste diálogo já faz algum tempo, que foi se ampliando. E vai continuar ampliando-se, porque o tempo se esgotou para aqueles que estão conduzindo a humanidade para este beco sem saída. Temos que falar, refletir e agir para encontrar outra saída.
GILBERTO LOPES ” BLOG A TERRA É REDONDA” ( BRASIL)
*Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa Rica (UCR). Autor, entre outros livros, de Crisis política del mundo moderno (Uruk).
Tradução: Fernando Lima das Neves.
Texto estabelecido a partir da Entrevista publicada no portal Rebelión em 16 de junho de 2010.
Referência
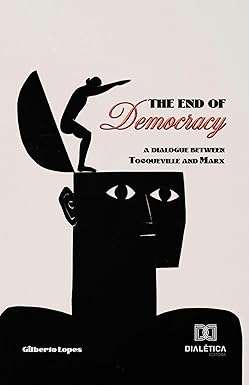
Gilberto Lopes. The end of democracy: a dialogue between Tocqueville and Marx. São Paulo, Editora Dialética, 2024, 158 págs. [https://amzn.to/3YcRv8E]
Notas
[i] Pág. 11. As citações referem-se à edição: La Democracia en América. Alianza Editorial, Madrid, 1980.
[ii] Pág. 30.
[iii] Pág. 10.
[iv] Touraine, Alain. ¿Qué es la democracia? Ediciones Temas de Hoy. Madrid, 1994. Pág. 255.
[v] Laski, H. J, El liberalismo europeo. Breviarios, Fondo de Cultura Económica (FCE). 1992. A edição original em inglês é de 1936.
[vi] Rosenberg, Arthur. Democracia y Socialismo. Editorial Claridad, Buenos Aires, 1966.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA