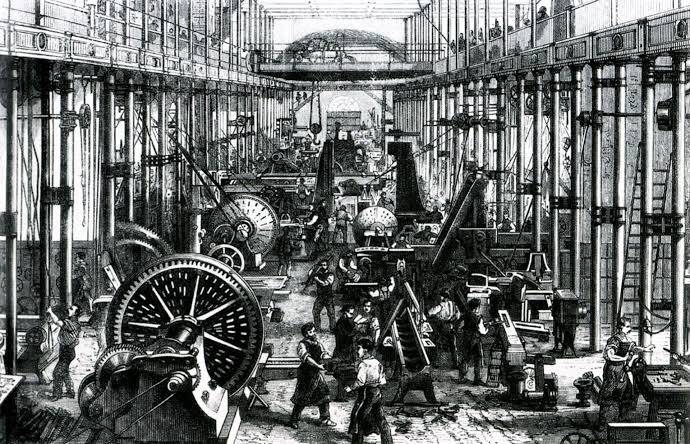

Lembro-me da primeira batalha em que me envolvi, quando da falência do Mappin. A mídia inteira pedindo seu fechamento, uma tolice sem tamanho.
Contribua usando o Google
Escolhi a economia para fugir do patrulhamento do meio artístico. Era repórter da geral da Veja, focado em comportamento e artes e espetáculos mas, principalmente, em música.
Em 1974 abriram duas vagas em editorias: na de Música e na de Economia. Tárik de Souza, o grande crítico de música, mudou-se para o Rio e Paulo Totti, o chefe de reportagem da Veja, me passou a convite da direção, para assumir o lugar de Tárik.
Estava pronto para a missão. Conhecia razoavelmente música, razoavelmente a teoria musical, tinha experiência como compositor. Mas havia algo que me incomodava profundamente. A ditadura impunha censura ao jornalismo político e econômico. A revanche, então, se dava na parte artística, mas de forma que, diria eu, um tanto covarde: havia um massacre em cima de artistas tido como “alienados”. O grande Henfil criou, no Pasquim, um “cemitério dos mortos-vivos”, do qual não escapou nem Ligia Fagundes Telles.
Esse patrulhamento tornara a crítica de música extraordinariamente medíocre. Se o compositor compusesse uma música medíocre, mas com algum toque subliminar de questionamento político, era consagrado.
Se era para combater a ditadura, o caminho era a economia, com todas as limitações da época. Na verdade, as editorias eram extraordinariamente chapas-brancas, embaladas pelo sonho de Brasil Grande. Mas havia espaços para começar a questionar, ainda mais após a crise do petróleo e a manipulação dos índices de inflação por Delfim.
A mudança de governo, com a entrada de Ernesto Geisel, abriu algum espaço para matérias de denúncias. Creio que a intenção de Geisel era expor malfeitos de Delfim, de maneira a erodir a imagem do “milagre”.
Éramos três desbastando os escândalos da era Delfim: eu na redação da Veja, Otávio Costa na sucursal da Veja no Rio e Antonio Machado, no Estadão.
Quando a inflação voltou, criou enormes vulnerabilidades para os consumidores, sempre expostos a golpes. Uma de minhas últimas matérias na Veja foi sobre inflação, a quatro mãos com José Paulo Kupfer. A capa foi um dragão, desenhado por Milton, do Departamento de Artes. Foi um desenho tão marcante, que o dragão da inflação tornou-se personagem de todas as mídias nas décadas seguintes.
O jornalismo de serviços
Mas foi no Jornal da Tarde que descobri minha verdadeira vocação, o jornalismo de serviços, voltado para a defesa do consumidor-cidadão. Para tanto, foi fundamental um curso de matemática financeira que fiz com Dutra Vieira Sobrinho, o grande professor do uso de calculadoras eletrônicas.
Aí, abriu-se um mundo de possibilidades. Até então, tinha-se que recorrer a tábuas logarítmicas para efetuar cálculos financeiros. Com a maquininha, nada disso era necessário. Bastava ter raciocínio matemático que a maquininha fazia os cálculos.
Fui no Mappin e adquiri uma calculadora Texas. Quando tentei calcular o custo financeiro de um consórcio, a máquina não dava conta. Aí troquei por uma HP-38C, até chegar à verdadeira obra prima, a 12-C.
Até então, para saber a taxa efetiva de qualquer papel, o repórter tinha que recorrer a alguém de mercado. Com as calculadoras, não.
Foi o que me inspirou a criar a seção Seu Dinheiro, no Jornal da Tarde, e a escrever uma série de matérias desmascarando os golpes aplicados com taxas de juros. Havia várias formas de calcular os juros: a taxa de juros antecipada, a taxa nominal e a taxa composta. O lojista e, principalmente, os bancos, usavam de maneira a ludibriar o cliente.
Minha primeira experiência foi quando meu primeiro sogro, José Ferreira de Aguirre, ganhou uma indenização do Comind e foi fazer sua primeira aplicação. Disse-me que conseguiu uma taxa de 7% ao mês com o filho de um ex-gerente seu.
Disse-lhe que me pareceu excessiva.
– É um papel que é reservado apenas para amigos da diretoria, me explicou.
Decidi ir com ele até o banco. Chegando lá perguntei o valor de resgate ao gerente. Ele me passou e fiz o cálculo em taxa de juros composta, e dava muito menos que 7%. O gerente tinha uma HP na sua mesa. Provoquei-o:
– Você não sabe usar a calculadora?
E ele:
– A gente fala a taxa nominal para facilitar a venda para o cliente.
Seu Aguirre, um homem bom, acho que preferia ter levado o prejuízo a saber-se enganado pelo filho do seu ex-gerente.
Depois da calculadora, adquiri o primeiro microcomputador vendido no país, aprendi a programar em Basic – depois, em Fox – e a desmascarar os golpes do Banco Nacional da Habitação com os mutuários. Mas isto é outra história.
A matemática financeira
No Jornal da Tarde, gradativamente fui me envolvendo em temas de macroeconomia, mas a partir da visão da economia real – aquilo que os economistas chamam, com certo desdém, de observação empírica.
Lembro-me quando Delfim Neto soltou o desastroso pacote econômico de 1980 – um desastre equivalente ao pacote Joaquim Levy. Deu uma máxi, depois congelou ORTN e câmbio. E passou a corrigir o câmbio em 0,5% ao mês. A idéia seria congelar a inflação e os exportadores passarem a ampliar gradativamente suas exportações, em cima das projeções de ganhos cambial.
Escrevi um artigo dizendo que era tolice, que haveria fuga para ativos reais e que as exportações brasileiras eram casos de oportunidade: o exportador prospectava mercado e aproveitava pedidos ocasionais. Disse isso baseado em conversas com tradings da época.
Para minha surpresa, também, havia pouquíssimo domínio da matemática da economia real por parte de macroeconomistas. Lembro-me que uma vez montei um programa para calcular o preço médio do quilo de maquinário exportado. Dava uma redução. Procurei um professor da FGV, especialista em câmbio, que não soube me explicar. Depois, um pessoal da Funcex, especialista em comércio exterior, explicou-me que o peso era função da complexidade do maquinário exportado. Portanto, não era um indicador confiável sobre o desempenho das exportações.
Com o Plano Cruzado, meu conhecimento de matemática financeira foi fundamental. Um pouco antes, resolvi passar uma ou duas semanas de férias na Argentina. Chegando lá, todos os jornais falando em Plano Primavera. Fui até Roberto Frenkel, um dos pais do plano. Ele me explicou o conceito da troca de moeda, e das tablitas – um cálculo para anular os efeitos da inflação passada sobre os contratos.
Voltei. A esta altura estava na Folha, com a seção Dinheiro Vivo, que tinha uma seção especial para matemática financeira. Fiz uma lição explicando o conceito de tablitas, e provocando alarme nos cruzados: julgaram que fosse vazamento de informação do programa que estava sendo preparado.
Quando saiu o Cruzado, fiscalizei todas as conversões, inclusive uma do saldo devedor do SFH que claramente beneficiava as instituições financeiras em detrimento dos mutuários. Envolvi-me até em um debate com Mário Henrique Simonsen, contratado pela Abecip (Associação Brasileira das Empresas de Crédito Imobiliários e Poupança) para um parecer. Para minha surpresa, Simonsen invocou argumentos jurídicos, em vez de entrar na discussão financeira.

As construções federativas
O plano Cruzado foi essencialmente matemático. Consistia em uma troca de moedas, seguida de um congelamento. Como os índices de inflação eram calculados em cima da variação de preços do período anterior, havia a necessidade da tablita para expurgar os resíduos inflacionários do período pré-congelamento
Na época, lancei o livro O Plano Cruzado, descrevendo todas as conversões matemáticas do plano.
Mas o plano falhava em questões comezinhas. Ao assumir o Ministério da Fazenda, os economistas de Dilson Funaro tinham uma desconfiança em relação aos funcionários públicos, pelo fato de terem servido a Delfim, no período anterior.
Sem os quadros da burocracia, tudo empacava. Deram sorte com o fato de terem permanecido um funcionário concursado, João Batista de Abreu e outro, concursados do Banco do Brasil, Mailson da Nóbrega.
Aí descobri que havia um elemento relevante não previsto na vã economia: a capacidade de gestão.
A segunda descoberta veio logo após, com a implantação do Sistema Único de Saúde, com sua fantástica engenharia federativa, a maneira de interagir com estados e municípios, a lógica dos hospitais de referência, os grupos de saúde da família. Os resultados eram fantásticos, objetivos, ligados ao mundo real.
Você olhava o SUS. Depois, olhava os economistas de planos econômicos, encastelados nos minaretes do Banco Centrdal e da Fazenda, meramente definindo contratos e conversões de moeda. Era uma diiferença brutal entre a soifisticaçao de uma construção federativa e as planilhas óbvias de meia dúzia de iluminados.
Os APLs
Um terceiro elemento foi a descoberta do potencial da organização de pequenas empresas em torno de um único objetivo, os chamados Arranjos Produtivos Locais
Aliás, no longínquo 1975 montei um jornal em Poços de Caldas, para tocar nos finais de semana. Na época, minha mãe – emérita tricoteira – havia ganhado uma máquina SInger, de tricotar. Bolei umas ideias e fui levar ao Rafael Acconcia, Secretário de turismo da cidade. A prefeitura adquiriria várias máquinas e selecionaria bordadeiras. Depois faria um levantamento dos melhores pontos de bordado da cidade. Com isso, haveria uma linha de produtos bem distinta. As bordadeiras fariam os bordados em suas máquinas e a prefeitura montaria uma empresa para comercializar os tricôs made in Poços. Quando mostrei ao Rafael, ele parecia estar vendo o diabo na sua frente. Nem quis levar a conversa adiante.
Nos anos 90, quando a financeirização começou a ganhar força, tornou-se conhecida uma boutade de Paulo Guedes: se trancassem 30 pessoas em uma sala e desse um machado para cada um, só sobrariam 10, mas o conjunto seria mais eficiente.
Não me conformei com aquela maluquice. Significa que os 20 restantes eram inúteis?
Tirei a prova em uma palestra para o Departamento de Recursos Humanos do Citibank – o primeiro a trazer esse espírito de competição interna. Metade do tempo os funcionários dedicavam a tentar puxar o tapete de quem estava acima; a outra metade, a se defender das puxadas de tapete de quem vinha abaixo. Como considerar esse modelo como eficiente?
A resposta do RH me convenceu de vez:
– Com 40 anos eles estão psicologicamente destruídos.
Aí me veio à mente o caso do seu Ferreira – que divulguei o quanto pude. Poços viveu o auge no período do jogo – que acabou em 1946. Nos anos 50, mudou-se para a cidade o seu Ferreira, de Ouro Fino, e gerente do Banco do Crédito Real de Minas Gerais. Alugou uma casa vizinha à nossa.
Poços mantinha a rede hoteleira. Ainda tinha visibilidade nacional. E tinha um clube esportivo, a Associação Atlética Caldense, da qual meu pai era diretor. Se juntasse isso tudo, poderia ser criado, por exemplo, os Jogos Abertos de Poços de Caldas.
Meu pai levou a ideia para a Caldense, foi acatada e, durante anos, foi o evento turístico de maior impacto na cidade, beneficiando hotéis, comércio, artesões.
Ora, o que seu Ferreira tinha de ativo? Confiabilidade, com aval do seu Oscar. Do que já existia, transformaram em um produto novo que beneficiou toda a comunidade. Quem era melhor? O seu Ferreira ou o operador de mercado que simplesmente vendia caro e comprava barato?
Ali ficou claro para mim um conjunto de princípios que me norteariam dali para frente:
1. O reconhecimento social é estímulo que pode ser mais eficaz do que a vontade de ganhar dinheiro.
1. A tecnologia social é um instrumento fantástico de gerar riqueza, mesmo sem investimento adicional.
Uma visita de um Ministro da Indústria e do Comércio italiano à Folha trouxe a luz final. Houve um almoço, do qual participei, onde ele falou do milagre italiano. Ele surgiu na Nova Itália, com os modelos de arranjos produtivos locais, no qual se reuniam os empresários de cada cidade, em parceria com a prefeitura, e tratavam de criar linhas de produto para vender para fora.
– Depois que esse modelo pegou, vieram os economistas, fizeram uma maxidesvalorização cambial e quiseram ficar com o mérito.
Com o tempo, movimentos como o MST (Movimento dos Sem Terra) e MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) fortaleceram minha convicção.
A relevância da empresa privada
Um dos grandes desafios dos anos 90 foi a modernização das empresas privadas, após o pesado período de centralização da década anterior, e do período de hiperinflação, que fazia com que todo o foco das empresas fosse no caixa.
Com a estabilização inflacionária, sai correndo o Brasil tentando levar princípios básicos às empresas. O ativo mais raro que existia na época era gestão. Por isso não tinha lógica a empresa se dispersar em montar refeitórios para os funcionários, linhas de ônibus e quetais, dispersando sua capacidade gerencial. O correto seria terceirizar tudo o que não fosse atividade meio.
Ainda no período Fernando Collor, Antônio Maciel – ex-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras e membro da equipe de Dorothea Werneck – veio até o meu escritório contar o que estava acontecendo de novo: os programas de qualidade, a reformulação do Sebrae.
Imediatamente, aderi à bandeira da qualidade. Defendi a então Fundação Cristiano Ottoni, da Universidade Federal de Minas Gerais que, depois, se transformou em INDG, do Vicente Falconi. Encantei-me com os casos de programas de qualidade envolvendo todos os setores das empresas.
Rejeitei o convite para fazer parte do Conselho de Reforma do Estado – criado pelo então Ministro da Administração Luiz Carlos Bresser Pereira -, ao lado de grandes empresários nacionais. Indiquei Maciel para meu lugar. Mas aceitei, depois, ser membro do Prêmio Nacional de Qualidade, premiando empresas públicas que fizessem programas de qualidade. E ajudei a convencer Fernando Henrique Cardoso da importância de instituir o Movimento Brasil Competitivo.
Certa vez, em um Congresso na Bahia, ouvi um Jorge Gerdau orgulhoso:
– Conversei com um grande empresário japonês que disse que o Brasil, agora que levou a qualidade ao serviço público, terá condições de ser uma das maiores economias do mundo.
Naqueles anos 90, havia uma geração de empresários que queriam ser grandes em um país grande, como Gerdau, Cláudio Bardella, Paulo Villares, Norberto Odebrecht.
Na época, um dos fatores relevantes de desenvolvimento era o trabalho das grandes empresas fortalecendo seus fornecedores e conferindo aos trabalhadores papel central para a melhoria de processos internos.
Houve iniciativas fantásticas na época, como a Cemig, implantando programas de qualidade para seus fornecedores. Ou um grupo de grandes empresas privadas fazendo o mesmo.
Houve uma redução do movimento quando o inevitável Jorge Paulo Lemann cooptou Falconi e transformou os programas de qualidade total em mero instrumento de cortar custos para aumentar os dividendos.
Na área pública, o papel nefasto de Maria Helena Guimarães e Mendonça Filho, no governo Temer e José Serra, desvirtuaram totalmente o conceito, transformando os programas de qualidade em educação em princípios gerenciais primários, enfiados goela abaixo dos professores e alunos. Matava-se, assim, o grande vetor dos programas, que era a interação entre direção e funcionários, a importância de conquistar corações e mentes.
Empresa como bem social
Quando se ouve o alarido de jornalistas contra a anulação das multas das empreiteiras acusadas pela Lava Jato, imagina-se que eram motivados por razões ideológicas. Não apenas isso. Há uma ignorância ancestral na mídia, sólida como a cabeça de um terraplanista, contra empresas.
Lembro-me da primeira batalha em que me envolvi, quando da falência do Mappin. A mídia inteira pedindo seu fechamento. Era uma tolice sem tamanho. Fechada, a empresa valeria apenas seus imóveis e estoques. Os valores maiores – marca, estrutura de pessoal, departamento comercial, departamento de compras, os valores intangíveis eram muito mais valiosos do que os imobiliários.
Foi um custo a defesa da recuperação judicial como instrumento de recuperação das empresas.
Um capítulo inesquecível foi a recuperação da Caio Induscar, fabricante de carrocerias. Um juiz inteligente, em vez de decretar a falência da empresa – o que não cobriria sequer os direitos trabalhistas – decidiu recuperá-la. Não apenas conseguiu pagar todos os compromissos trabalhistas, como preservou empregos e conseguiu aumento de produção.
Mas a burrice nacional é invencível, sobrevive por décadas. Não entende que malfeitos são cometidos por pessoas, não por empresas. E preservar empresas significa preservar empregos, tecnologia, receita fiscal, fornecedores.
O papel da inclusão
Sempre imaginei como principal missão do Estado a melhoria das condições de vida de toda a população. Mas, mesmo para os que sempre imaginaram o Estado do ângulo exclusivo da eficiência, havia um paradoxo que não explicavam:
1. Um país é composto pela soma do potencial de sua população.
2. Se parte relevante da população não tem direitos, todo seu potencial é desperdiçado.
Confesso que, no início das batalhas pela inclusão, defendia os critérios sociais. Achava que um branco classe D era mais vulnerável que um negro classe B. Assim como um negro classe D era mais vulnerável que um branco classe D.
Foi Frei David, primeiro, minha futura esposa Eugênia Gonzaga, depois, que me convenceram de um fator crucial. A inclusão do negro nas universidades – ou em concursos públicos – não apenas abriria possibilidades para a faixa mais excluída da população, reparando um pecado original da formação do Brasil, como permitiria à futura elite do país naturalizar, aceitar e conviver com a diversidade racial.
A grande resistência contra as cotas era a de que diminuiria o grau de excelência das universidades. A Unicampo matou a charada. Passou a dar um bônus (em pontos) para os alunos de escolas públicas, e um adicional para alunos de escola pública negros.
Depois de um ano, foi feita uma pesquisa e constatou-se que os cotistas tinham uma média maior do que a média geral da universidade.
Recentemente, fui assistir a uma formatura na tradicionalíssima Escola Politécnica, justo no ano de formatura da primeira turma de cotistas. Foi emocionante perceber que todos os discursos – dos paraninfos aos oradores – realçavam o fato de ser uma universidade pública e a importância da solidariedade e do ensino público.
Durante a pandemia, o diretório acadêmico se articulou com ex-alunos para conseguir computadores para os alunos cotistas poderem acessar as aulas virtuais. As cotas formaram alunos mais solidários, sendo que a solidariedade é o cimento inicial da constituição de uma Nação.
O papel do Estado
Desde o meu início no jornalismo econômico, me encantei com o papel do Estado como agente coordenador das atividades privadas. Estudei o PAEG (Programa de Ação Econômica do Governo), no governo Castello Branco; o plano de governo de Carvalho Pinto; o Plano Trienal de Jango-Celso Furtado. E assisti a inúmeras tentativas de políticas industriais isoladas, sem visão sistêmica.
Um programa de desenvolvimento tem que contemplar uma enorme variedade de temas:
– o poder de compra do Estado;
– a garantia de financiamento de longo prazo a taxas competitivas, papel do BNDES;
– interação com os sistemas de ciência e tecnologia;
– os investimentos em infraestrutura.
A macroeconomia e a observação empírica
A grande vantagem do jornalista econômico é poder conviver com o economista teórico e com os atores econômicos – empresas e empregados.
A teoria pressupõe reações específicas dos agentes econômicos. Se os agentes não se comportam como prevê a teoria, o erro está na teoria.
Logo após o Plano Real, havia uma discussão sobre quanto tempo levaria para entrar as importações, ajudando a segurar a inflação. Escrevi que o tempo médio era de 6 meses. O então Ministro do Planejamento, José Serra, me telefonou e perguntou se eu havia lido Paulo Krugman. Disse-lhe que não. Que havia ido fazer uma palestra para um atacadista em Uberlândia e ele me contou que era o tempo mínimo para descobrir que tipo de produtos seus clientes demandariam e montar contatos com os fornecedores estrangeiros.
O desenvolvimento se dá a partir da análise dos elementos centrais de estímulo às empresas:
1. Câmbio competitivo e estabilizado. Nenhum capital estrangeiro produtivo (para diferenciar do especulativo) entrará em um país sem ter garantia da estabilidade do câmbio. Logo, livre fluxo de capitais é nocivo ao investimento produtivo.
2. Taxas de financiamento de longo prazo competitivas internacionalmente.
Era essa a lógica do BNDES. Acontece que uma empresa do setor real, se tem acesso a taxas de investimento competitivas, tem muito mais possibilidade de crescer antes de recorrer a novos aportes de capital. O que o mercado quer são taxas de financiamento maiores, que diminuem o valor das empresas, tornando-as mais baratas para as operações de fusão e aquisição.
3. Política monetária.
O Banco Central tem necessidade de controlar a liquidez do mercado, para evitar bolhas inflacionárias ou para estimular a economia. Ao escolher a negociação de títulos públicos remunerados para tal, regulado por uma taxa Selic montada em cima de falsos fundamentos científicos, o que consegue:
A. Desviar grande parte do orçamento dos investimentos sociais ou obras públicas, para o bolso dos rentistas.
B. Definir um nível de taxa de retorno que desestimula investimentos produtivos.
Obviamente há uma inacreditável disfunção básica nessa política de metas inflacionárias. Não se discutem alternativas por quê? Porque a disfunção beneficia setores politicamente poderosos.
4. Métricas econômicas.
Ao longo do tempo, a econometria criou um conjunto de indicadores que não passam pelo teste da observação empírica:
Produtividade do Trabalho: é medido pela quantidade produzida x número de empregados. Uma empresa tem uma quantidade xis de empregados aptos a uma produção que pode variar para 20% a mais ou a menos. Se a economia não cresce, há um aumento da capacidade ociosa e uma queda do nível de produção por empregado. Não há nenhuma relação com a maior ou menor eficiência o trabalhador.
Taxa de Juros Neutra: define um número mágico, uma taxa real de juros, e diz que se a taxa de juros da economia for inferior à taxa de juros neutra, haverá inflação. Houve tempo em que Pérsio Arida dizia que a taxa de juros neutra era de 8% acima da inflação. Pedi para ele explicar o que se passava na cabeça do sujeito que marca preços. Ele explicou: ele olha a projeção futura de inflação; de a taxa de juros estiver menos que 8% acima, ele reajusta preços. Todos as empresas que eu conhecia reajustavam preços quando havia demanda, reduziam quando havia competição.
LUIS NASSIF ” JORNAL GGN” ( BRASIL)