
Até o tiro fatal nos excessos da Lava Jato, o alarido “a PF está nas ruas” suscitava um alvoroço nacional. O estampido despertava, majoritariamente, curiosidade e, em proporções menores, inquietudes institucionais e temores de retrocessos civilizatórios. As comunicações, endereçadas a um seleto grupo de escolhidos, eram disparadas de maneira mecânica e sem apuração, com o objetivo de alcançar a maior ressonância possível. A operação comandada pelo xerife Sérgio Moro e seus detetives do MP (“equipe de Moro”) fez uma aliança tática com setores da mídia. Granjearam publicidade fácil e repercussão. Alcançaram resultados e, temporariamente, os julgamentos foram desaforados dos autos para as sentenças midiáticas, invariavelmente condenatórias.
Nas batidas policiais, seriadas como os enlatados da TV, as câmeras chegavam ao espetáculo antes dos tiras. Após a estridência, os esquálidos BO’s narrativos eram reverberados com a lógica única da acusação. O espaço da defesa era burocrático, constrangido. O acesso aos autos, deferido para mídia, era negado aos advogados. As diligências, buscas, apreensões, coercitivas e prisões dos alvos eleitos pela Lava Jato antecipavam a culpa. O capa-preta Sérgio Moro abençoava os “vazamentos em peneira”, essenciais para consolidação da delegacia nacional de polícia. As madrugadas eram torturantes para investigados – culpados ou inocentes -, insone para os carcereiros e gratificantes para os mensageiros. Esse mecanismo escriturou as ocorrências mais atemorizantes para as democracias: a anomalia do Estado Policial, base de todos os estados de exceção.
O vírus policialesco não foi debelado com a correição de seus hospedeiros de Curitiba. A nova cepa da tirania apresentou variantes e segue infectando os direitos individuais, garantias coletivas e o Estado Democrático de Direito. No último dia 18 de março cinco ativistas foram presos em frente ao Palácio do Planalto após exibirem a faixa “Bolsonaro Genocida” e uma charge com a ilustração da suástica. A sentinela local, subordinada ao governador aliado de Bolsonaro, informou despudoradamente que prendeu os militantes “por infringir a Lei de Segurança Nacional”. A LSN é um esgoto jurídico, não recepcionado pela Constituição, e já deveria estar aterrada pelo STF. Com exceção de 1 militante, todos foram colocados em liberdade.
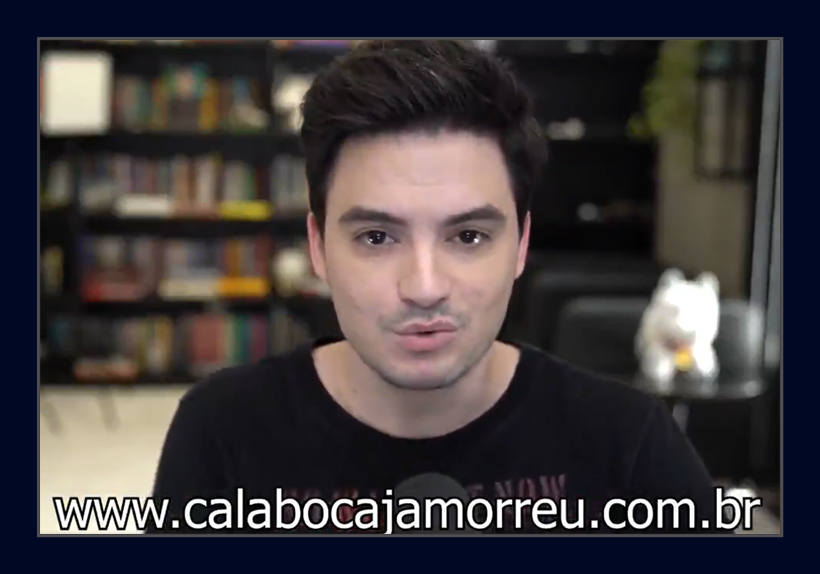
Tão despótica quanto as custódias em Brasília, foi a persecução contra o influenciador Felipe Neto, que também qualificou o capitão de “genocida”, após superarmos 278 mil óbitos pela Covid-19. A intimação, devidamente atirada na lata de lixo da ordem jurídica, foi lavrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde o governador reza na mesma cartilha de Bolsonaro. Uma verdadeira trapalhada de usurpações e incompetências. A Polícia Civil abusou. A abertura de inquérito, por suposto delito contra honra do presidente, não poderia se dar a pedido do filho do capitão, alcunhado de 02. Também no início de março, em Uberlândia, um estudante foi recolhido por teóricas ameaças ao capitão do mato, obstinado em se tornar em capitão do sítio, do estado de sítio.
As caçadas autoritárias estão sendo banalizadas com uma desenvoltura cínica. O profissional autônomo, Roger Orsi, foi investigado pela Polícia Federal por compartilhar em uma rede social um meme que mostrava Jair Bolsonaro em um caixão e uma frase de Neymar: “saudade do que a gente não viveu ainda”. Roger recebeu uma ligação da uma escrivã da Polícia Federal intimando-o para depor na Superintendência de São Paulo 6 meses após a publicação. É tão estarrecedor que beira a incredulidade. De acordo com um levantamento publicado pela revista “Carta Capital”, o número de inquéritos abertos com base na cadavérica Lei de Segurança Nacional cresceu mais 200% em relação aos governos anteriores.

A PF também abriu investigação contra o sociólogo Tiago Costa Rodrigues, apontado como patrocinador de outdoors em Palmas contra Bolsonaro. Um dos painéis foi instalado em agosto de 2020. A mensagem, ao lado da imagem de Bolsonaro: “Cabra à toa não vale um pequi roído. Palmas quer impeachment já”. A expressão “pequi roído” refere-se a coisas inúteis. Outro outdoor dizia: “Vaza Bolsonaro! O Tocantins quer paz!”. Outras tentativas de intimidação foram direcionadas contra vários jornalistas, articulistas e Ciro Gomes que mencionou “a ladroeira do Bolsonaro”, ao se referir ao crime de peculato pelo qual o filho senador foi denunciado no Rio de Janeiro. O subversivo “dossiê pequi” também já foi arquivado.
O comissário que estava à frente da chefatura política, aparelhando a PF, é André Mendonça, um dos famélicos pela boquinha no STF, cujo ‘overbooking’ é escancarado. Mendonça é um capanga acrítico do bolsonarismo, esteja onde estiver. No Ministério da Justiça instrumentalizou a Polícia Judiciária para tentar intimidar, calar e perseguir críticos da intendência responsável pela necrópole atual. No passado outros até tentaram, mas PF não é uma polícia política e a brigalhada interna da corporação desautoriza qualquer ambição neste sentido. Pelo critério da impessoalidade, o STF enquadrou Bolsonaro no ano passado e barrou a nomeação de um camarada da família para comandá-la, Alexandre Ramagem.

Mendonça, bibelô funcional, foi jogado de volta para a AGU. Ele ainda arranha a garganta com os espinhos dos pequis democráticos do STF. No ano passado, nas catacumbas da Secretaria de Operações Integradas do MJ, agentes públicos espreitaram o pensamento de 579 servidores denominados de “antifascistas” com um dossiê de mais de 400 páginas de bisbilhotices inúteis. O esporro da ministra Carmem Lúcia não inibiu os métodos autoritários de Mendonça: “A gravidade do quadro descrito, que – a se comprovar verdadeiro – escancara comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito e que põem em risco a rigorosa e intransponível observância dos preceitos fundamentais da Constituição da República”.

No recente desarranjo ministerial, Bolsonaro delegou a um ‘brother” da ‘casa nostra’ o comando do Ministério da Justiça, onde a PF está alojada. O novo delegado-chefe é Anderson Torres, um tira da federal vinculado a Flávio Bolsonaro, cuja folha corrida, apurada pelo MP/RJ, resultou na denúncia por 3 crimes de corrupção. Torres é identificado com a bancada da bala e, pela primeira vez, o mais tradicional ministério da Esplanada será tocado por um delegado ligado à área de segurança e não à Justiça. Isso já diz muito sobre a escolha. Com a mexida, além de novo fôlego para aberrações medievais (redução maioridade penal, excludente de ilicitude, banalização de armas etc.) o terror policialesco, usando a PF para fins políticos, permanece recendendo.
O estado policial foi a expressão mais aterradora do nazismo. Hitler criou, aparelhou e encorpou grupos paramilitares à medida que acumulava poder. A Gestapo, a SS e SA foram inchadas e, ao final, unificadas no aparato estatal com propósitos políticos. A Gestapo, a polícia secreta e partidária, era uma das mais temidas e disputadas. Os expedientes repressivos são os mesmos usados hoje no Brasil: monitoramento de oponentes, custódias arbitrárias, perseguição a minorias, delações e espionagens. Eles transformaram a Gestapo na peça central de terror durante o terceiro Reich. O julgamento de Nuremberg declarou a Gestapo como organização criminosa e seus dois dirigentes carniceiros (Heinrich Himmler e Hermann Göring) se mataram.
Além do Estado Policial e a montagem de aparelhos paramilitares, que se busca implantar por qualquer meio, inclusive com milícias, os expedientes bolsonaristas têm outras similitudes com o nazismo. Entre eles hostilizar a imprensa, atribuir todos os fracassos à esquerda, incensar a mitomania ignorante, a reiteração de mentiras, a propaganda maciça de falsidades alienantes, o culto à morte, o belicismo, a militarização dos cargos civis e a disseminação do ódio contra todas as minorias, adversários, pensadores, escritores e a universidade. Além dos estratagemas, qualquer papiloscopista recolheria inúmeras digitas de simpatizantes do terceiro Reich no governo Bolsonaro.

A Secretaria de Comunicação da Presidência, chefiada então por Fábio Wajngarten, produziu uma peça publicitária em maio de 2020, em plena ascensão da pandemia sabotando o isolamento social. Ela foi compartilhada pelo capitão e, em determinado trecho afirma: “O trabalho, a união e a verdade nos libertará”. O erro de concordância foi corrigido posteriormente. Mas a inscrição nazista na entrada do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia: “Arbeit macht frei” (o trabalho liberta) é eterna. O ex-agente da diplomacia isolacionista e servil aos EUA, Ernesto Araújo, também foi pressionado a se retratar por comparar erroneamente o isolamento social aos infames campos de concentração. Ele também causou mal-estar ao mencionar a sigla SPQR no Senado, atribuída a movimentos neofascistas.

Araújo, escorraçado do governo depois de esfolar a diplomacia com asneiras e xenofobias, também ostenta outro passivo. O pai dele, Henrique Fonseca de Araújo foi procurador-geral no governo militar de Ernesto Geisel, e deu pareceres contrários à extradição do nazista Gustav Franz Wagner. Wagner, subcomandante do campo de concentração de Sobibor (Polônia) foi responsabilizado por 250 mil mortes entre 1942 e 1943. Ele foi descoberto no Brasil em 1978 pelo famoso caçador de nazista Simon Wiesenthal. O pai do Ernesto, revelou o jornal “Folha de São Paulo”, recusou quatro pedidos de extradição, da Polônia, Áustria, Alemanha e Israel. Araújo disse que o pai defendia o Estado de Direito. Resta saber de quem.
O assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins foi filmado em março de 2021 reproduzindo um gesto que foi contestado durante o depoimento do então chanceler, Ernesto Araújo ao Senado, sobre as dificuldades do Brasil na aquisição de vacinas. Uma semana depois, Araújo foi cuspido na mexida ministerial que abriu uma inédita crise com a área militar. Senadores protestaram contra Felipe Martins. Para alguns o gesto com a mãos, um sinal de ok invertido, seria obsceno e, para outros, um símbolo supremacista da raça branca. O assessor alegou que ajustava a lapela do paletó e negou a eugenia, que exterminou mais de 6 milhões no holocausto. O mesmo gesto foi reproduzido por um aliado de Bolsonaro, que foi simpático: “Sei que é um gesto bacana, mas não pega bem pra mim”.

Em janeiro de 2020, embalado por Richard Wagner (compositor predileto de Hitler), o secretário de Cultura de Bolsonaro, Roberto Alvim, plagiou trechos de um pronunciamento do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels: “A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada”, afirmou Alvim em vídeo. Goebbels havia dito: “A arte alemã da próxima década será heroica, será ferrenhamente romântica, será desprovida de sentimentalismo e objetiva, será nacional com um grande pathos e será ao mesmo tempo imperativa e vinculante – ou não será nada”, disse Goebbels em seu discurso. A fala de Alvim resgata a grande queima de livros em 1933 na Alemanha, quando Hitler já era chanceler, em nome de uma eugenia cultural.

Depois de aterrorizar oponentes usando a PF, Bolsonaro tentou repetir o método com os militares. Blefou para ampliar a simbologia de poder, que é declinante. Tentou capturar as Forças Armadas para as intervenções políticas. A quartelada virou um golpe do eunuco. Ao recusar manifestações em favor do governo e em desfavor do STF em episódios políticos, o ministro da Defesa foi exonerado. Em solidariedade a ele os 3 comandantes das Forças Armadas renunciaram, repudiando rupturas institucionais, aventuras golpistas e o rebaixamento de órgãos de Estado à condição de milícia. O que Bolsonaro chamava de “meu Exército”, o repeliu pela segunda vez. O isolamento e a fragilidade do capitão ficaram patentes depois de romper com Alto Comando. O exército dele é de 1 homem só.
WEILLER DINIZ ” BLOG OS DIVERGENTES” ( BRASIL)